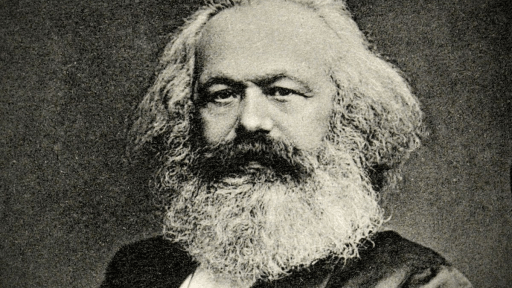David Hume (1711-1776) foi um filósofo, historiador e economista escocês que se tornou uma das figuras mais importantes do empirismo britânico e do Iluminismo escocês. Conhecido por sua clareza de escrita e por seu ceticismo radical, Hume levou as ideias empiristas de pensadores como John Locke a suas últimas consequências, questionando a base de muito do que tradicionalmente assumimos saber sobre o mundo, incluindo a causalidade, a indução e até mesmo a existência de um “eu” estável. Sua filosofia foi um divisor de águas, despertando Immanuel Kant de seu “sono dogmático” e moldando debates filosóficos que persistem até hoje.
De onde vem todo o nosso conhecimento, segundo Hume?
Para David Hume, a resposta à pergunta sobre a origem de todo o nosso conhecimento é direta e enfática: todo o nosso conhecimento provém, em última instância, da experiência. Ele é um defensor convicto do empirismo, a doutrina filosófica que sustenta que a experiência sensorial é a fonte primária de todo o conhecimento e que a mente, ao nascer, é como uma tábua em branco, destituída de ideias inatas. No entanto, Hume aprofunda e sistematiza o empirismo de uma forma que o distingue de seus predecessores, como John Locke.
Hume inicia sua investigação sobre a mente humana distinguindo entre dois tipos de “percepções” ou conteúdos mentais: as impressões e as ideias. Essa distinção é fundamental para toda a sua teoria do conhecimento. Ele argumenta que todas as nossas ideias, mesmo as mais complexas e abstratas, são cópias ou derivações de nossas impressões. Nada existe em nossa mente que não tenha entrado por meio dos sentidos ou da experiência interna.
As impressões são nossas percepções vivas e fortes no momento em que as estamos experimentando. Isso inclui as sensações que vêm de nossos órgãos dos sentidos (ver uma cor, ouvir um som, sentir calor) e também nossas experiências internas, como emoções e sentimentos (raiva, alegria, dor). As impressões são a matéria-prima de todo o nosso pensamento; elas são as experiências originais e imediatas.
As ideias, por outro lado, são as cópias fracas das impressões que permanecem em nossa mente depois que a impressão original desapareceu. São os pensamentos, memórias e conceitos que formamos a partir de nossas impressões. A ideia de uma maçã vermelha, por exemplo, é uma cópia da impressão vívida que tivemos ao ver, tocar e talvez provar uma maçã vermelha. As ideias são menos vivas e distintas do que as impressões correspondentes.
A tese central de Hume é que a prioridade está sempre nas impressões. Não podemos ter uma ideia de algo que nunca experimentamos de alguma forma através de uma impressão. Se tivermos uma ideia complexa, podemos (e devemos, para Hume) decompô-la em suas ideias mais simples, e então rastrear a origem dessas ideias simples em impressões correspondentes. Esse princípio serve a Hume como uma ferramenta poderosa para analisar e, muitas vezes, descartar conceitos metafísicos que não parecem ter uma base empírica clara.
Qual a diferença entre “impressões” e “ideias” para Hume?
A distinção entre impressões e ideias é o ponto de partida e a base da filosofia empírica de David Hume, apresentada em sua obra Tratado da Natureza Humana e mais claramente em Investigação sobre o Entendimento Humano. Para Hume, essa distinção é fundamental para analisar a natureza de todo o conteúdo da nossa mente, que ele chama genericamente de “percepções”.
As impressões são definidas por Hume como nossas percepções mais vivas e fortes. São as experiências que temos no momento presente, com toda a sua força e vivacidade. Elas se dividem em duas categorias principais: impressões de sensação (ou sensoriais) e impressões de reflexão. As impressões de sensação vêm diretamente do mundo exterior através dos nossos cinco sentidos – a dor de uma queimadura, o brilho de uma cor, o som de uma voz. As impressões de reflexão são nossas experiências internas, como emoções, paixões e sentimentos – a alegria de uma conquista, a raiva de uma injustiça. A característica definidora das impressões é sua força e vivacidade no momento em que as sentimos.
As ideias, em contraste, são as cópias enfraquecidas das impressões. São as representações menos vivas dessas experiências que aparecem em nosso pensamento, memória e imaginação. Quando você se lembra da dor da queimadura, a lembrança é uma ideia, menos vívida do que a impressão original da dor. Quando você pensa sobre a alegria da conquista, o pensamento é uma ideia, uma cópia da impressão de alegria que você sentiu. As ideias são, em essência, as impressões refletidas ou lembradas.
A relação entre impressões e ideias é, para Hume, uma relação de prioridade causal. Ele argumenta que todas as nossas ideias derivam de impressões correspondentes. Uma ideia simples (como a ideia de “vermelho”) é uma cópia de uma impressão simples (a experiência de ver algo vermelho). Ideias complexas (como a ideia de um “grifo”, uma criatura mitológica com corpo de leão e cabeça de águia) são formadas pela combinação de ideias simples (“leão”, “águia”), que, por sua vez, derivam de impressões simples. O princípio de que toda ideia deriva de uma impressão é o que Hume usa como um teste para verificar a validade de conceitos. Se um termo filosófico ou abstrato não pode ser rastreado até as impressões das quais supostamente deriva, Hume tende a considerá-lo vazio de significado objetivo.
Em suma, as impressões são a experiência original, imediata e vívida; as ideias são as cópias, lembranças ou reflexões menos vívidas dessas experiências. Essa distinção clara e a tese da prioridade das impressões sobre as ideias são a base do empirismo radical de Hume e o ponto de partida para suas análises céticas de conceitos filosóficos tradicionais.
Aqui está uma tabela resumindo a distinção entre impressões e ideias:
| Característica | Impressões | Ideias |
| Vivacidade | Fortes e vívidas | Fracas e menos vívidas |
| Natureza | Experiências originais e imediatas | Cópias ou reflexões de impressões |
| Exemplos | Sentir dor, ver cor, ouvir som, sentir raiva | Lembrar de dor, pensar em cor, conceituar som |
| Prioridade | A fonte original de todas as ideias | Derivam e dependem das impressões |
| Função | Matéria-prima do pensamento | Conteúdo do pensamento, memória, imaginação |
Como nossas ideias se conectam na mente?
Se todas as nossas ideias são cópias de impressões, como é que elas se organizam em nosso pensamento? David Hume, seguindo a tradição empirista, não acreditava em estruturas inatas de pensamento complexas como as categorias kantianas. Em vez disso, ele propôs que nossas ideias se conectam na mente através de certos princípios de associação. Esses princípios atuam como uma espécie de “força suave” que guia a transição de uma ideia para outra em nosso pensamento, memória e imaginação.
Hume identificou três princípios principais de associação de ideias: semelhança, contiguidade (no tempo ou no espaço) e causalidade (causa e efeito). Ele via esses princípios como as “leis” que regem o funcionamento da mente, observáveis através da introspecção e da experiência comum. Eles explicam por que nossos pensamentos não são uma sequência aleatória de ideias, mas sim uma corrente geralmente coerente e conectada.
O princípio da semelhança sugere que nossas mentes tendem a associar ideias que são parecidas umas com as outras. Quando pensamos em uma pintura, por exemplo, nossa mente pode facilmente ser levada a pensar no original que a pintura representa, pois há uma semelhança visual entre eles. Uma ideia evoca outra que lhe é semelhante.
O princípio da contiguidade, seja no tempo ou no espaço, postula que nossas mentes associam ideias de coisas que são experimentadas como estando próximas umas das outras. Se você pensa em uma casa, sua mente pode naturalmente pensar em seus cômodos, ou em outras casas na mesma rua, pois elas são contíguas no espaço. Se você pensa em um evento, sua mente pode ser levada a pensar no evento que o precedeu ou o seguiu imediatamente no tempo. Experiências que ocorrem juntas tendem a ser associadas em nossa memória e pensamento.
O princípio da causalidade (ou causa e efeito) é, para Hume, o mais forte e importante dos princípios de associação, embora sua própria análise da causalidade seja cética. Ele observa que, quando experimentamos repetidamente que um tipo de evento (a causa) é consistentemente seguido por outro tipo de evento (o efeito), nossa mente forma uma associação entre as ideias desses dois tipos de eventos. Pensar na causa nos leva a pensar no efeito esperado, e vice-versa. É esse princípio que nos permite raciocinar sobre fatos e existências para além do que está imediatamente presente aos nossos sentidos ou memória.
Esses três princípios de associação – semelhança, contiguidade e causalidade – são, para Hume, os mecanismos básicos pelos quais nossas ideias se organizam e se conectam, formando o fluxo do nosso pensamento. Eles são a explicação empirista para a coerência e a estrutura aparente da nossa vida mental, derivando inteiramente da forma como nossas impressões e ideias são experimentadas e relacionadas ao longo do tempo.
Aqui está uma lista dos princípios de associação de ideias segundo Hume:
- Semelhança: Associamos ideias que são parecidas entre si (Ex: Pensar em um retrato leva a pensar na pessoa retratada).
- Contiguidade: Associamos ideias de coisas que são próximas no tempo ou no espaço (Ex: Pensar em um cômodo leva a pensar nos cômodos vizinhos da casa).
- Causalidade: Associamos ideias de eventos que experimentamos como causa e efeito (Ex: Pensar em fogo leva a pensar em fumaça).
O que Hume descobriu ao analisar a ideia de “causa e efeito”?
Uma das contribuições mais famosas e impactantes de David Hume, e uma das fontes de seu ceticismo, é sua análise da ideia de “causa e efeito” ou causalidade. Em sua Investigação sobre o Entendimento Humano, Hume submeteu essa ideia fundamental (que usamos constantemente para entender o mundo e fazer previsões) a um exame rigoroso com base em seus princípios empiristas, chegando a conclusões surpreendentes e que desafiaram a filosofia tradicional.
Hume começou sua análise perguntando de qual impressão deriva a ideia de causa e efeito. Quando observamos um evento que consideramos a causa de outro (por exemplo, uma bola de bilhar A colidindo com uma bola de bilhar B, e B então se movendo), o que realmente percebemos? Hume argumenta que percebemos apenas três coisas distintas na experiência: contiguidade espacial (as bolas estão próximas uma da outra no espaço), prioridade temporal (o movimento de A ocorre antes do movimento de B) e conjunção constante (sempre que A colide com B, B se move).
Ele notou que, por mais que observemos eventos relacionados por causalidade, nunca percebemos uma “conexão necessária” entre eles. Não vemos ou sentimos uma força ou poder que obrigue o efeito a seguir a causa. Vemos apenas que um evento segue o outro, repetidamente. A ideia de que há uma ligação intrínseca e inevitável entre a causa e o efeito – que a causa necessariamente produz o efeito – não parece derivar de nenhuma impressão sensorial particular que corresponda a essa “conexão necessária”.
Se a ideia de conexão necessária não vem de uma impressão sensorial externa, de onde ela vem? A resposta de Hume é que ela vem de uma impressão interna, uma impressão de reflexão. Depois de observar a conjunção constante entre dois tipos de eventos muitas vezes, nossa mente forma um hábito ou costume. Quando vemos o primeiro evento (a causa), nossa mente é levada, pela força do hábito, a esperar o segundo evento (o efeito). A sensação interna dessa expectativa ou determinação da mente a passar da causa ao efeito é a impressão da qual deriva a ideia de conexão necessária.
Portanto, a conclusão cética de Hume é que a nossa crença na conexão necessária entre causa e efeito não se baseia na observação racional de uma propriedade objetiva do mundo, mas sim em um sentimento interno produzido pelo hábito formado pela experiência repetida de conjunções constantes. A causalidade, no sentido de uma força que liga eventos, é mais uma projeção de nossa própria mente baseada na experiência passada do que uma característica intrínseca da realidade observável. Essa análise teve profundas implicações para a ciência e para a metafísica, questionando a certeza de nosso conhecimento sobre relações causais.
Por que não podemos provar a “conexão necessária” entre causa e efeito?
A análise de David Hume sobre a causalidade o levou à conclusão de que não podemos provar a existência de uma “conexão necessária” entre a causa e o efeito através da razão ou da experiência direta. Essa afirmação foi um dos pontos mais radicais e influentes de seu ceticismo, desafiando a crença fundamental de que os eventos no mundo estão ligados por laços de necessidade que podemos conhecer e compreender racionalmente.
O argumento de Hume começa com sua tese empirista: todas as nossas ideias derivam de impressões. Para que a ideia de uma conexão necessária entre causa e efeito fosse válida, ela teria que derivar de uma impressão correspondente. No entanto, ao examinar a experiência de causa e efeito (como a colisão de bolas de bilhar), Hume argumentou que não há nenhuma impressão sensorial externa de uma força ou ligação que obrigue o efeito a seguir a causa. Tudo o que observamos são eventos que ocorrem juntos em contiguidade espacial e sucessão temporal, repetidamente.
Não há nada na causa em si mesma que nos permita deduzir logicamente o efeito sem ter tido experiência prévia. Por exemplo, se víssemos gelo pela primeira vez, não poderíamos deduzir pela razão pura que ele derreteria quando aquecido. Só sabemos disso pela experiência de aquecer gelo e observá-lo derreter. Isso sugere que o conhecimento de causa e efeito não é obtido por raciocínio a priori, mas a posteriori, a partir da experiência.
Mas mesmo a experiência, segundo Hume, não nos mostra a necessidade. Ver o gelo derreter repetidamente quando aquecido mostra uma conjunção constante, mas não mostra que o derretimento tem que ocorrer, que é necessário. Poderíamos imaginar (conceber sem contradição) um cenário em que o gelo não derreta quando aquecido (embora isso contradiga nossa experiência). Se pudermos conceber o oposto sem contradição lógica, então a conexão não é necessária no sentido racional ou lógico.
A ideia de conexão necessária surge, para Hume, do hábito ou costume formado em nossa mente pela observação repetida da conjunção constante de eventos. Depois de ver A sempre seguido por B, nossa mente é determinada, por hábito, a esperar B quando vê A. É essa determinação mental, esse sentimento interno de expectativa, que é a impressão da qual deriva a ideia (externamente projetada) de conexão necessária. Não é uma propriedade objetiva dos objetos no mundo que percebemos diretamente, mas uma característica subjetiva de nossa própria mente em resposta à experiência repetida. Assim, a “conexão necessária” não pode ser provada como uma verdade objetiva sobre o mundo externo pela razão ou pela experiência sensorial; ela é um produto de nossa própria psicologia baseada no hábito.
O que é o “problema da indução” levantado por Hume?
Ligado intrinsecamente à sua análise da causalidade, o “problema da indução” é outro desafio cético fundamental levantado por David Hume. A indução é o tipo de raciocínio que usamos constantemente em nossa vida cotidiana e na ciência, onde inferimos que algo será verdadeiro no futuro ou em casos não observados com base em nossas experiências passadas. Por exemplo, acreditamos que o sol nascerá amanhã porque sempre o vimos nascer no passado. Acreditamos que as leis da física observadas em laboratório se aplicarão a fenômenos em outras partes do universo.
Hume questionou a justificação racional para fazer essas inferências indutivas. Por que devemos acreditar que o futuro se assemelhará ao passado? Por que as regularidades que observamos até agora continuarão a existir? Nossa crença na indução parece basear-se em um princípio da uniformidade da natureza – a suposição de que as leis da natureza são constantes e se aplicam uniformemente no espaço e no tempo. Mas de onde vem a nossa crença nesse princípio?
Hume argumentou que não podemos provar o princípio da uniformidade da natureza por raciocínio demonstrativo (raciocínio a priori, como na matemática ou lógica). Não há contradição lógica em imaginar que as leis da natureza possam mudar, que o sol não nasça amanhã, ou que o gelo, a partir de agora, pare de derreter quando aquecido. A verdade do princípio da uniformidade da natureza não pode ser estabelecida meramente pela análise de conceitos.
Se não podemos prová-lo demonstrativamente, talvez possamos prová-lo por raciocínio provável (raciocínio a posteriori, baseado na experiência). Poderíamos argumentar que acreditamos que o futuro se assemelhará ao passado porque, na experiência passada, o futuro sempre se assemelhou ao passado. Observamos que as regularidades se mantiveram até agora. Mas essa linha de raciocínio é, para Hume, circular. Ela tenta justificar o princípio da uniformidade da natureza (o futuro se assemelha ao passado) apelando a casos passados onde o futuro se assemelhou ao passado. Isso pressupõe o próprio princípio que estamos tentando provar.
A conclusão de Hume é que nossa confiança na indução e no princípio da uniformidade da natureza não se baseia na razão, mas sim no hábito ou costume. A experiência repetida de que certas causas são seguidas por certos efeitos nos leva, pela força do hábito, a esperar que essa sequência continue no futuro. É uma inclinação psicológica, não uma inferência racionalmente justificada. O problema da indução, tal como Hume o formulou, destaca a lacuna entre a nossa experiência limitada do passado e a nossa pretensão de fazer inferências universais sobre o futuro, mostrando que a base para essas inferências é mais a crença e o hábito do que a certeza racional.
Se não é a razão, o que nos faz acreditar na causalidade e na indução?
Após demonstrar que a ideia de conexão necessária na causalidade e a justificação para a indução não se baseiam na razão ou na experiência direta da necessidade, David Hume oferece sua explicação positiva para por que, apesar da falta de justificação racional, acreditamos firmemente em relações causais e fazemos inferências sobre o futuro. A resposta de Hume é o hábito ou costume.
Para Hume, a mente humana é uma máquina de formar associações com base na experiência. Quando observamos repetidamente que um tipo de evento (digamos, a queda de um objeto) é consistentemente seguido por outro tipo de evento (a quebra do objeto), nossa mente forma uma associação forte entre esses dois tipos de eventos. Essa repetição cria um hábito ou costume em nossa mente.
Como resultado desse hábito, quando vemos o primeiro evento ocorrer novamente no futuro (a queda do objeto), nossa mente, quase que automaticamente e sem a necessidade de raciocínio consciente complexo, é levada a esperar o segundo evento (a quebra do objeto). É essa expectativa gerada pelo hábito que constitui a nossa crença na relação causal e que nos permite fazer inferências sobre o que acontecerá a seguir. A ideia de conexão necessária, como vimos, é a impressão interna desse sentimento de determinação da mente a passar da causa ao efeito.
A indução funciona de maneira semelhante. Acreditamos que o sol nascerá amanhã não porque tenhamos uma prova lógica ou porque possamos ver uma conexão necessária no funcionamento do universo, mas porque a experiência repetida (ver o sol nascer dia após dia) criou em nós o hábito de esperar esse evento. O costume nos leva a projetar as regularidades passadas para o futuro.
A importância do hábito e do costume na filosofia de Hume reside no fato de que eles são os guias principais da vida humana. Embora não nos forneçam o tipo de certeza racional que talvez desejássemos, eles são essenciais para nossa sobrevivência e funcionamento no mundo. É o hábito que nos permite navegar pela realidade, fazer previsões rápidas e agir com base em nossas experiências passadas, sem precisar de um raciocínio complexo e muitas vezes impossível para cada passo. Hume argumentou que, se tivéssemos que depender apenas do raciocínio demonstrativo ou provável justificado para cada inferência causal ou indutiva, provavelmente morreríamos de fome ou seríamos incapazes de realizar as tarefas mais básicas. O hábito é, portanto, a base psicológica de grande parte de nossas crenças sobre o mundo e o motor de nossas expectativas sobre o futuro.
O que Hume pensava sobre a ideia do “eu” ou “identidade pessoal”?
A investigação cética de David Hume não se limitou ao mundo externo e às nossas ideias sobre causalidade e indução; ele também aplicou seu método empírico ao conceito do “eu” ou “identidade pessoal”. Tradicionalmente, a filosofia e o senso comum assumiam a existência de um “eu” substancial e contínuo – uma alma ou mente unificada e persistente que permanece a mesma ao longo do tempo, apesar das mudanças em nossos pensamentos, sentimentos e experiências. Hume questionou a base empírica dessa ideia.
Seguindo seu princípio de que toda ideia deriva de uma impressão, Hume procurou a impressão da qual derivaria a ideia de um “eu” constante e imutável. Ele argumentou que, quando introspectamos e olhamos para dentro de nós mesmos, não encontramos uma única impressão simples e contínua de um “eu” ou “self”. Em vez disso, encontramos uma sucessão constante de percepções: pensamentos, sentimentos, sensações, desejos que fluem e mudam continuamente.
Hume descreveu a mente como uma espécie de “feixe” ou “coleção” de percepções em constante fluxo, sem nenhuma substância subjacente ou identidade simples e imutável à qual essas percepções estejam ligadas. Ele usou a analogia de um teatro, onde diferentes cenas (nossas percepções) passam em sucessão, mas não há um palco fixo (o “eu” substancial) sobre o qual elas ocorrem. A ideia de um “eu” persistente, para Hume, não deriva de uma impressão única e contínua que permanece a mesma ao longo do tempo, pois todas as nossas impressões internas (sentimentos, emoções) e externas (sensações) estão em constante mudança.
Se não há uma impressão de um “eu” substancial, de onde vem a nossa forte crença na identidade pessoal? Hume sugeriu que essa crença é, em parte, um produto dos princípios de associação de ideias, particularmente a semelhança e a causalidade aplicadas às nossas percepções internas. Nossas percepções se assemelham umas às outras (são todas “nossas” percepções) e estão conectadas por relações de causalidade (um pensamento leva a outro, uma memória evoca um sentimento). A força dessas associações nos leva a imaginar uma conexão ou identidade subjacente que na verdade não experimentamos diretamente.
A conclusão cética de Hume sobre o “eu” é que não temos base empírica para afirmar a existência de um “self” substancial e imutável. A ideia de identidade pessoal é mais uma construção da imaginação, baseada na semelhança e na causalidade entre nossas percepções variáveis, do que uma percepção direta de uma entidade persistente. Essa visão teve implicações profundas para a filosofia da mente e para a compreensão tradicional do que significa ser uma pessoa ao longo do tempo.
Como Hume abordava a metafísica e a religião?
O ceticismo de David Hume, fundamentado em seu empirismo radical, o levou a uma abordagem altamente crítica da metafísica tradicional e das crenças religiosas baseadas em argumentos teológicos. Ele submeteu os conceitos centrais dessas áreas ao seu teste empírico, perguntando de quais impressões as ideias correspondentes derivam, e frequentemente concluía que elas careciam de uma base sólida na experiência.
Em relação à metafísica, Hume criticou conceitos como substância, essências, e a possibilidade de conhecimento a priori substancial sobre a realidade para além das relações entre ideias (como na lógica e matemática). Ele argumentou que não temos impressões de “substância” subjacente às qualidades que percebemos; tudo o que experimentamos são coleções de qualidades sensoriais. A ideia de uma substância como algo que “suporta” as propriedades carece de uma impressão correspondente clara. Da mesma forma, suas análises da causalidade e da indução minaram a possibilidade de derivar leis universais e necessárias sobre o mundo puramente pela razão ou pela experiência limitada. Para Hume, grande parte da metafísica era especulação sem fundamento empírico, levando a pseudoproblemas e disputas insolúveis.
Quanto à religião, Hume aplicou seu ceticismo aos argumentos racionais para a existência de Deus e à validade dos milagres. Em seus Diálogos sobre a Religião Natural, ele explorou criticamente o argumento do design (que infere a existência de um designer inteligente a partir da ordem e complexidade do universo), apontando fraquezas na analogia entre o universo e as máquinas feitas pelo homem. Ele questionou a possibilidade de inferir atributos divinos (como perfeição ou infinitude) a partir da experiência limitada do mundo imperfeito.
Em seu ensaio “Sobre Milagres”, Hume argumentou que um milagre (uma violação das leis da natureza) é, por definição, um evento extremamente improvável. Nossa crença nas leis da natureza é baseada em uma experiência uniforme e constante de que elas se mantêm. Um testemunho de um milagre, por mais que pareça confiável, sempre se opõe a essa experiência uniforme. Portanto, na maioria dos casos, seria mais razoável acreditar que o testemunho está equivocado (devido a erro, engano ou fraude) do que acreditar que a lei da natureza foi realmente suspensa. Hume não disse que milagres são impossíveis, mas que nunca teremos motivos racionais suficientes, baseados em testemunho, para acreditar que um ocorreu.
A abordagem de Hume à metafísica e à religião era de ceticismo empírico. Ele não necessariamente negava a existência de Deus ou a possibilidade de realidades metafísicas, mas argumentava que não podíamos ter conhecimento ou crença racionalmente justificada sobre eles com base em nossa experiência ou razão. Suas críticas foram altamente influentes, desafiando as bases racionais da teologia natural e da metafísica tradicional e defendendo uma abordagem mais cautelosa e baseada na experiência para as grandes questões da filosofia.
De onde vêm nossos juízos morais, da razão ou do sentimento?
Na área da ética, David Hume rompeu com a tradição filosófica que via a razão como a fonte primária ou exclusiva de nossos juízos morais. Em vez disso, ele argumentou que a moralidade está fundamentalmente enraizada no sentimento ou na paixão, e não em deduções racionais ou verdades abstratas. Para Hume, a distinção entre vício e virtude não é algo que descobrimos pela razão, mas algo que sentimos.
Hume argumentou que a razão, por si só, é inativa; ela lida com a descoberta de verdades ou falsidades e com a relação entre ideias ou fatos. A razão pode nos ajudar a entender as consequências de uma ação ou a identificar os meios mais eficazes para atingir um fim, mas ela não pode motivar a ação nem determinar o que é moralmente bom ou mau. A razão é escrava das paixões, Hume famosamente afirmou, e não pode pretender ter outra função a não ser servi-las e obedecê-las.
Quando consideramos uma ação e a chamamos de “má” (por exemplo, um assassinato), não chegamos a esse juízo por uma dedução lógica. Em vez disso, a “maldade” que atribuímos ao ato não é uma propriedade objetiva do ato em si que podemos observar, como a cor ou o tamanho. A “maldade” é, para Hume, um sentimento de desaprovação que surge em nós quando contemplamos o ato. O vício e a virtude “escapam” à razão, pois não são qualidades que podem ser apreendidas ou demonstradas intelectualmente.
Nossos juízos morais, portanto, derivam de um sentimento moral ou senso moral. Quando observamos uma ação ou um caráter, experimentamos um sentimento particular de aprovação ou desaprovação. Chamamos de “virtuosa” ou “boa” uma ação ou caráter que provoca em nós um sentimento de aprovação. Chamamos de “viciosa” ou “má” uma ação ou caráter que provoca um sentimento de desaprovação. Esses sentimentos morais são, para Hume, uma espécie de paixão tranquila que surge em resposta à contemplação de certas qualidades ou ações.
A base desses sentimentos de aprovação ou desaprovação é, em grande parte, a consideração pela utilidade ou pela agradabilidade das qualidades ou ações em questão – seja para a própria pessoa, seja para os outros. Tendemos a aprovar qualidades que são úteis ou agradáveis (beneficiam) e a desaprovar aquelas que são prejudiciais ou desagradáveis. Portanto, para Hume, a moralidade não é um sistema de leis racionais universais (como em Kant), mas um sistema baseado em nossos sentimentos e na nossa capacidade de simpatia, que nos permite compartilhar os sentimentos dos outros e, assim, formar juízos morais que visam o bem-estar e a felicidade humana.
Qual o papel das paixões na nossa vida moral?
Na filosofia de David Hume, as paixões desempenham um papel central, não apenas em nossa psicologia e motivação, mas também, crucialmente, em nossa vida moral. Longe de serem vistas como obstáculos à razão ou fontes de erro (como em algumas tradições filosóficas), as paixões são, para Hume, as forças motrizes por trás de nossas ações e a base de nossos juízos morais.
Hume divide as paixões em duas categorias principais: diretas e indiretas. As paixões diretas surgem imediatamente de uma sensação de prazer ou dor (ou da expectativa delas), como o desejo, a aversão, a alegria, a tristeza, a esperança e o medo. As paixões indiretas surgem da combinação de prazer ou dor com outras qualidades ou ideias, como o orgulho, a humildade, o amor e o ódio. O orgulho, por exemplo, surge de uma sensação de prazer associada à ideia de nós mesmos.
A tese radical de Hume é que a razão sozinha nunca pode motivar uma ação. A razão pode nos informar sobre os fatos do mundo ou as relações entre ideias, e pode nos ajudar a descobrir os meios mais eficazes para alcançar um fim. Mas o desejo ou a aversão que nos levam a agir em primeiro lugar vêm das paixões. Se você tem o desejo de comer uma maçã (uma paixão), a razão pode lhe dizer onde encontrar uma ou como descascá-la, mas a razão por si só não o fará querer comer a maçã.
Essa visão tem profundas implicações para a moralidade. Se a ação é motivada pelas paixões, então nossos juízos morais, que muitas vezes levam à ação (aprovamos uma ação e queremos praticá-la, desaprovamos e queremos evitá-la), também devem ter suas raízes nas paixões ou nos sentimentos. Como vimos, Hume argumenta que a moralidade não é um objeto da razão, mas sim um sentimento de aprovação ou desaprovação que surge em nós.
As paixões tranquilas, que incluem o senso moral e certas disposições duradouras como a benevolência, são particularmente importantes na ética de Hume. Embora menos violentas do que as paixões violentas (como raiva ou medo), elas têm um poder direcionador em nosso comportamento e são a fonte de nossos sentimentos morais. Ao contemplar uma ação ou caráter que tende a promover o bem-estar ou a felicidade (nossa ou de outros), surge em nós um sentimento de aprovação (uma paixão tranquila), que é a base de nosso juízo moral positivo. Assim, para Hume, a moralidade não é uma luta entre a razão e a paixão, onde a razão deve dominar as paixões; em vez disso, a moralidade é um produto das paixões em sua forma mais sutil e socialmente orientada, guiadas pela simpatia e pela consideração da utilidade e da agradabilidade.
Como a simpatia nos ajuda a entender a moralidade?
O conceito de simpatia (que em Hume tem um sentido mais próximo de “contágio de sentimentos” ou “empatia”) é um mecanismo psicológico crucial na ética de David Hume, explicando como nossos sentimentos morais podem ser compartilhados e formar a base de juízos morais que são, até certo ponto, universais na sociedade. A simpatia é a chave para entender como passamos de sentimentos e paixões individuais para juízos que podemos compartilhar com outros.
Hume descreve a simpatia como a capacidade de comunicar ou compartilhar os sentimentos e paixões de outra pessoa. Quando vemos alguém expressando alegria, tristeza ou dor, tendemos a sentir um eco ou uma ressonância desses sentimentos em nós mesmos. É como se as paixões pudessem ser transmitidas de uma mente para outra, não de forma idêntica, mas como uma ideia que se transforma em uma impressão de vivacidade similar.
Essa capacidade de simpatia é fundamental para a moralidade porque nos permite experimentar (de forma atenuada) os sentimentos que as ações ou caracteres de outros produzem neles mesmos ou em terceiros. Quando vemos uma ação que causa sofrimento a alguém, a simpatia nos permite sentir uma parcela desse sofrimento, o que contribui para o nosso sentimento de desaprovação moral em relação à ação. Da mesma forma, quando vemos uma ação que beneficia alguém e causa prazer, a simpatia nos permite sentir uma parcela desse prazer, o que contribui para o nosso sentimento de aprovação.
É através da simpatia que podemos ir além de nossos próprios interesses e sentimentos egoístas ao fazer juízos morais. A simpatia nos permite considerar o impacto de uma ação ou caráter no bem-estar e na felicidade dos outros. Uma qualidade é considerada virtuosa ou boa porque ela tende a produzir sentimentos agradáveis (prazer, felicidade) na pessoa que a possui, nas pessoas com quem ela interage, ou mesmo em um espectador imparcial que considera suas consequências. A simpatia nos permite “sentir” essa agradabilidade ou utilidade.
Hume argumentava que nossos juízos morais, embora baseados no sentimento, não são meramente arbitrários ou puramente subjetivos porque a simpatia nos leva a compartilhar sentimentos que são, em certa medida, comuns à natureza humana e que respondem à utilidade e à agradabilidade das ações e caracteres. A simpatia funciona como um corretivo para nossas inclinações egoístas, permitindo-nos adotar uma perspectiva mais ampla e formar juízos morais que são mais universais e objetivos do que seriam se baseados apenas em nossos interesses imediatos. A simpatia, portanto, é o mecanismo psicológico que conecta nossas paixões individuais aos sentimentos morais compartilhados que formam a base da moralidade social.
O que Hume entendia por justiça?
Apesar de seu ceticismo em relação a conceitos metafísicos e sua ética baseada no sentimento, David Hume também abordou virtudes sociais e políticas importantes, como a justiça. No entanto, sua análise da justiça difere significativamente das teorias que a veem como uma lei natural universalmente válida (como em Locke) ou um imperativo da razão pura (como em Kant). Para Hume, a justiça não é uma virtude natural inata, mas sim uma virtude artificial.
Uma virtude artificial, na concepção de Hume, não deriva diretamente de um instinto natural ou de uma paixão inata, mas surge de um acordo social ou convenção que se estabelece para promover o interesse comum e a estabilidade da sociedade. A justiça, em particular, surge da necessidade de regular a posse de bens e a transferência de propriedade em um mundo onde os bens são relativamente escassos e as pessoas são inerentemente egoístas (embora também capazes de simpatia).
Hume argumentou que, se a natureza humana fosse perfeitamente benevolente e os recursos fossem infinitamente abundantes, a justiça, tal como a conhecemos (regras sobre propriedade, contratos, etc.), seria desnecessária. É a combinação da escassez de bens e do egoísmo limitado da natureza humana que torna as regras de justiça úteis e necessárias para a existência pacífica e próspera da sociedade.
As regras de justiça, como a estabilidade da posse, a transferência por consentimento e o cumprimento de promessas, não são descobertas pela razão como verdades eternas. Elas emergem gradualmente como convenções que as pessoas percebem serem do seu interesse comum seguir para evitar o caos e a insegurança de um estado onde a propriedade é incerta e os acordos não são cumpridos. A observância dessas regras leva a uma maior segurança e prosperidade para todos, e é essa utilidade para a sociedade que nos leva a aprovar as ações justas e a desaprovar as injustas.
A aprovação moral da justiça, portanto, deriva do nosso sentimento moral baseado na simpatia pela utilidade pública que as regras de justiça promovem. Vemos que a observância dessas regras beneficia a sociedade como um todo (promove a ordem, a paz, o comércio), e essa percepção da utilidade, mediada pela simpatia, gera em nós um sentimento de aprovação para com as ações justas. Não aprovamos a justiça porque a razão nos diz que é um dever absoluto, mas porque nossos sentimentos, informados pela experiência e pela simpatia, nos levam a valorizar as convenções que promovem o bem-estar social. Assim, a justiça é uma virtude que surge das necessidades sociais e é sancionada por nossos sentimentos morais baseados em sua utilidade.
Qual o legado duradouro da filosofia de David Hume?
O legado de David Hume na filosofia ocidental é profundo e multifacetado, estendendo-se por áreas como a epistemologia, a metafísica, a ética, a filosofia da mente e até mesmo a economia. Seu ceticismo radical e seu compromisso inabalável com o método empírico desafiaram profundamente as ideias filosóficas de sua época e continuam a influenciar debates contemporârios. Ele é amplamente considerado uma das figuras mais importantes do pensamento moderno.
Na epistemologia, a distinção de Hume entre impressões e ideias e seu princípio de que todas as ideias derivam de impressões estabeleceram um padrão para a análise empírica de conceitos. Suas análises céticas da causalidade e da indução são talvez suas contribuições mais famosas e problemáticas. Ao mostrar que nossa crença na conexão necessária e em inferências indutivas não se baseia na razão, mas no hábito, Hume apresentou um desafio formidável para a justificação do conhecimento científico e cotidiano que ainda hoje é objeto de intenso debate. A famosa declaração de Kant de que Hume o “despertou de seu sono dogmático” atesta o impacto direto de Hume na filosofia transcendental de Kant, que buscou responder aos desafios céticos de Hume.
Na metafísica, o ceticismo de Hume em relação a conceitos como substância, eu e conexão necessária minou as bases de grande parte da metafísica tradicional e da teologia natural. Sua visão do eu como um “feixe de percepções” é um ponto de partida importante para as teorias da identidade pessoal na filosofia da mente. Sua crítica aos argumentos racionais para a existência de Deus e sua análise dos milagres continuam a ser referências importantes na filosofia da religião.
Na ética, a abordagem de Hume, que fundamenta a moralidade no sentimento e na simpatia, em vez da razão, oferece uma alternativa poderosa às éticas deontológicas. Sua ênfase na utilidade e na agradabilidade como bases da aprovação moral o coloca como um precursor importante do utilitarismo. A ideia de que as paixões desempenham um papel central na motivação moral e que a simpatia é crucial para os juízos morais ressoa em abordagens éticas contemporâneas que consideram a psicologia humana e as emoções.
Além de suas contribuições filosóficas diretas, a clareza e o estilo de escrita de Hume estabeleceram um padrão para a prosa filosófica. Sua influência se estende a áreas como a economia (sendo um defensor precoce do livre comércio) e a história. O legado de Hume é o de um pensador audacioso que, armado com um empirismo rigoroso e um ceticismo perspicaz, desconstruiu muitas das certezas tradicionais, forçando os filósofos posteriores a reavaliar as bases do conhecimento, da moralidade e da natureza humana. Seu trabalho continua a ser uma fonte vital para a reflexão filosófica.
Aqui está uma lista de alguns dos principais legados e influências da filosofia de David Hume:
- Empirismo: Sistematização e desenvolvimento radical do empirismo.
- Ceticismo: Desafios céticos sobre causalidade, indução, identidade pessoal e metafísica.
- Teoria do Conhecimento: Distinção impressões/ideias, associação de ideias, problema da indução.
- Filosofia da Mente: Visão do eu como feixe de percepções, papel das paixões.
- Ética: Fundamentação da moralidade no sentimento, papel da simpatia, precursor do utilitarismo.
- Filosofia da Religião: Crítica aos argumentos racionais para a existência de Deus, análise dos milagres.
- Influência em Kant: Despertou Kant para a necessidade de justificar o conhecimento sintético a priori.
- Filosofia Contemporânea: Continua a influenciar debates em epistemologia, filosofia da ciência e ética.